
“A política é a possibilidade de vida em comum, de vida em sociedade. Estudar isso é fascinante”, afirma a cientista política Marina Basso Lacerda. Natural de Ponta Grossa, ela começou a se interessar por ciência política já na adolescência, mas acabou se formando em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Em seguida, fez mestrado em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e doutorado em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP), considerado o berço dessa ciência no Brasil.
Morando atualmente em Brasília (DF), a pesquisadora também atua como Secretária Executiva da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, e pesquisa para o seu pós-doutorado pelo Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo (USP). Finalista do prêmio Jabuti deste ano, o seu livro O novo conservadorismo brasileiro: de Reagan a Bolsonaro (Zouk, 2019) apresenta uma das primeiras pesquisas sobre as origens do neoconservadorismo brasileiro. Na obra, a autora traça um paralelo entre a ascensão desse conservadorismo nos Estados Unidos da década de 80 e o surgimento do novo conservadorismo no Brasil a partir de 2013, que culminou com a eleição do presidente Jair Bolsonaro.
Originalmente, o termo “neoconservadorismo” (ou nova direita) se referia à coalizão que elegeu Ronald Reagan presidente dos Estados Unidos, em 1980. O movimento de reação às políticas de bem-estar social e ao avanço das pautas feministas e LGBT cimentou o movimento neoconservador, que décadas depois também eclodiria no Brasil. Na entrevista a seguir, Marina fala sobre as semelhanças entre Reagan e Bolsonaro, sobre a agenda neoconservadora brasileira e sobre a atuação da esquerda nesse novo cenário.
Na sua visão, o que possibilitou a ascensão do neoconservadorismo no Brasil?
É praticamente um consenso que a reação conservadora no Brasil começou em 2013. E as razões para isso se concentram no antipetismo. E a que se deve o antipetismo? Ao desgaste de ter chefiado o Executivo com questões não resolvidas para a população, como a do transporte público, que significa boa parte da vida de quem mora nas periferias. Deve-se ao ressentimento da classe média por ter perdido acesso exclusivo a aviões, cursos superiores e por alguns serviços, como o de trabalhadoras domésticas e de manicures, que são prestados pelas classes mais baixas, serviços que ficaram mais caros. Deve-se a uma reação do empresariado ao pleno emprego e ao aumento real dos salários. Isso tudo quem diz não sou eu, são outros pesquisadores, e cito aqui o meu orientador do pós-doutorado na USP, André Singer. Deve-se também à reação dos Estados Unidos ao que se chama de ordem multipolar, na qual o Brasil tinha um protagonismo importante, o que fez com que, possivelmente, se tenha desenhado estratégias de desestabilização, como a Lava Jato. Quem diz isso também não sou eu, é o Luis Fernandes, professor da PUC-RJ, por exemplo.
Como o presidente Jair Bolsonaro se encaixa dentro desse contexto?
Bom, todos esses fatores que eu mencionei levaram a uma reação conservadora. Mas não explicam por que foi o Bolsonaro – e não Alckmin, que tinha a melhor condição em recursos ou alianças, ou o Amoedo, que também tinha a característica de ser de fora da política – que hegemonizou o campo conservador e ganhou a eleição. O argumento que eu desenvolvo no livro, e que vem sendo confirmado por pesquisas de antropologia, é que o Bolsonaro uniu elementos com uma força extraordinária: a defesa da família e da religião, e a defesa de uma concepção punitivista de segurança pública, ao lado de sua retórica contra a corrupção. E, para as elites, ele adotou o pacote neoliberal no modelo do Consenso de Washington: desregulamentação, privatização, desburocratização. Tudo isso temperado com o ódio à esquerda e a uma lógica da Guerra Fria.
E qual é a conexão entre família, punitivismo e neoliberalismo?
Para as esquerdas, de modo geral, o Estado tem que prover serviços para promover o bem-estar dos cidadãos e reduzir as desigualdades sociais. No paradigma neoconservador, a unidade provedora dos indivíduos é a família. O Estado não deve intervir. Os princípios de mercado é que devem vigorar sem restrições. Aos indivíduos desviantes, não se tem uma concepção de que devam ser reinseridos ou de que se deva prevenir a violência com políticas estruturantes. Para isso há uma resposta agressiva de segurança pública.
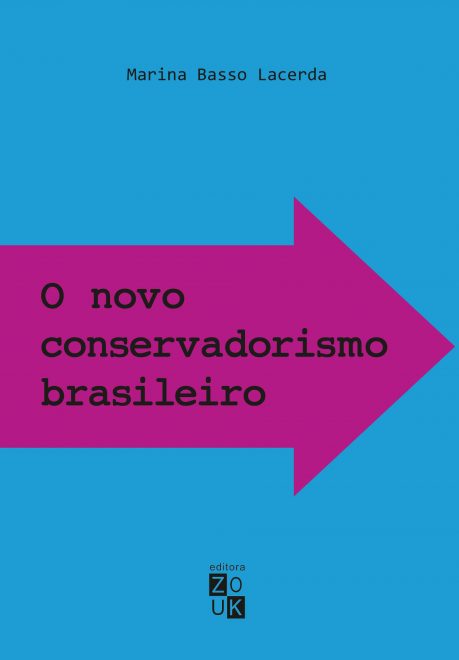
No seu livro, você aponta as afinidades entre Bolsonaro e o presidente americano Ronald Reagan (1981-1989). Mas há algo que distancie os dois presidentes?
O anticomunismo os aproxima e os distancia. O anticomunismo foi um elemento central para o neoconservadorismo de Reagan, e ele é muito resgatado hoje em dia, nas versões reais ou fantasiosas do socialismo do século XXI. Vamos lembrar de Bolsonaro abrindo a Assembleia Geral da ONU, no ano passado, falando que o Brasil superou a ameaça comunista, do Foro de São Paulo, Cuba etc. Mas os Estados Unidos são uma potência. Quando eles disputavam com a União Soviética na Guerra Fria, estava em questão ali não só a ideologia capitalista, mas também os Estados Unidos se firmarem como a potência hegemônica no mundo. O Brasil é um país de periferia. Para nós, interessam, do ponto de vista nacional, alianças para uma ordem multipolar. E são justamente essas alianças que o nosso neoconservadorismo critica. O Bolsonaro quer alianças preferenciais com os Estados Unidos – ou seja, alianças extremamente assimétricas. Os Estados Unidos são o sujeito do imperialismo e o Brasil é o objeto do imperialismo. Outra diferença importante tem a ver com o tempo em que vivemos. O uso das redes sociais. A lógica do inimigo é muito mais espalhada com o uso das redes.
Você acredita que o bolsonarismo começou a perder força e que a história será diferente da americana?
Sobre isso, há sinais ambíguos. Mas as eleições municipais e as pesquisas recentes indicam que está mesmo perdendo força. Acho que isso pode ter a ver com a resposta absurda do Bolsonaro à COVID-19, com a derrota do [Donald] Trump, com um desgaste do discurso extremista e com a redução do auxílio emergencial. Também acho cedo para opinar se ele será reeleito ou não. Se ele for reeleito, acho que será menos porque as pessoas entenderam que ele fez uma boa gestão e mais porque as oposições não conseguirem articular candidaturas agregadas, ou seja, se as oposições a ele se fragmentarem demais.
Como você avalia a reação da esquerda como um todo a esse cenário?
Uma dificuldade que não é de hoje, nem é peculiar ao Brasil, é a união das esquerdas. A estratégia eleitoral e a união das esquerdas que vimos agora na campanha do [Guilherme] Boulos não ocorreu nas eleições de 2018. Mas tem uma questão mais profunda. A esquerda tem respostas para questões sociais mais complicadas do que as da direita. Como eu estava falando antes, a esquerda propõe políticas públicas para o desenvolvimento social, quer orçamento robusto. A direita propõe voluntariado e empreendedorismo. Aliás, toda a discussão sobre austeridade, neoliberalismo, reside nisso. A esquerda propõe, para a criminalidade, o aumento de oportunidades, escola em tempo integral, urbanização das periferias, lazer. A direita propõe prisão perpétua, rigor ou, no extremo, “Bandido bom é bandido morto”. Claro, estou colocando aqui visões estilizadas de direita e de esquerda, porque ambas são heterogêneas. O que eu quero dizer é que as respostas da direita são mais diretas. Comunicam-se mais, especialmente em um mundo de comunicação por redes digitais. A esquerda não será esquerda se chegar propondo “Vamos matar os bandidos”. Então, existe uma dificuldade que não é por incompetência, mas uma dificuldade inerente ao pensamento progressista.
Outra dificuldade da esquerda: os trabalhadores não se identificam mais como tais. O mundo é dos serviços, da informalidade. Não é mais o mundo dos operários e dos sindicatos. Então, a politização é muito difícil, e o PT não ajudou quando promoveu o discurso de que havia uma nova classe média. Monetariamente existia uma nova classe média, mas a classe média não se identifica com a classe trabalhadora. Ela se identifica com os valores das elites – empreendedorismo, redução do Estado, livre iniciativa. Isso quem diz também é o Singer.

“O anticomunismo foi um elemento central para o neoconservadorismo de Reagan, e é muito resgatado no Brasil hoje em dia” – Marina Basso Lacerda (Foto: Endora Barboza)
Dentro desse contexto, como a esquerda pode voltar a ser relevante?
A esquerda perdeu espaço na política institucional e na sociedade, mas de maneira alguma deixou de ser relevante. Nem as causas pelas quais ela luta. As disputas sobre a orientação do orçamento – para políticas públicas ou para juros; sobre igualdade de gênero; sobre diversidade de arranjos de família; sobre o combate ao racismo; tudo isso está vivíssimo. Eu sei que essas agendas não são exclusivas da esquerda, mas historicamente são protagonizadas pela esquerda.
Na sua visão, o que a esquerda aprendeu com a eleição de Bolsonaro?
Acho que a esquerda está aprendendo, aos poucos, a se comunicar nessa realidade de atomização, sobre a qual eu falei anteriormente, e de mídias sociais. A campanha do Boulos para prefeito, agora em 2020, é o exemplo disso.
Após o resultado das eleições municipais, como você analisa a presença do neoconservadorismo?
Olhando as maiores cidades, a gente poderia dizer que o discurso de extrema direita perdeu força. Mas o Republicanos, que é o partido da [Igreja] Universal, que tem uma plataforma neoconservadora clara – conservadora nos costumes e na pauta criminal, e com valores de mercado muito fortes – foi o que mais cresceu. Então acho que é preciso aguardarmos mais estudos sobre o resultado dessas eleições.
Você acredita que Ponta Grossa, como um todo, tende mais para o neoconservadorismo ou para outro ideário?
Para outro ideário. Falo isso pela minha vivência, não que eu tenha lido alguma pesquisa a respeito. Mas acho que o conservadorismo de Ponta Grossa é, entre aspas, o conservadorismo “tradicional” brasileiro. Apesar da redundância do termo, quero dizer que é o conservadorismo ligado ao ruralismo e a uma rejeição geral à esquerda.
Por Eduardo Godoy | Foto: Endora Barboza